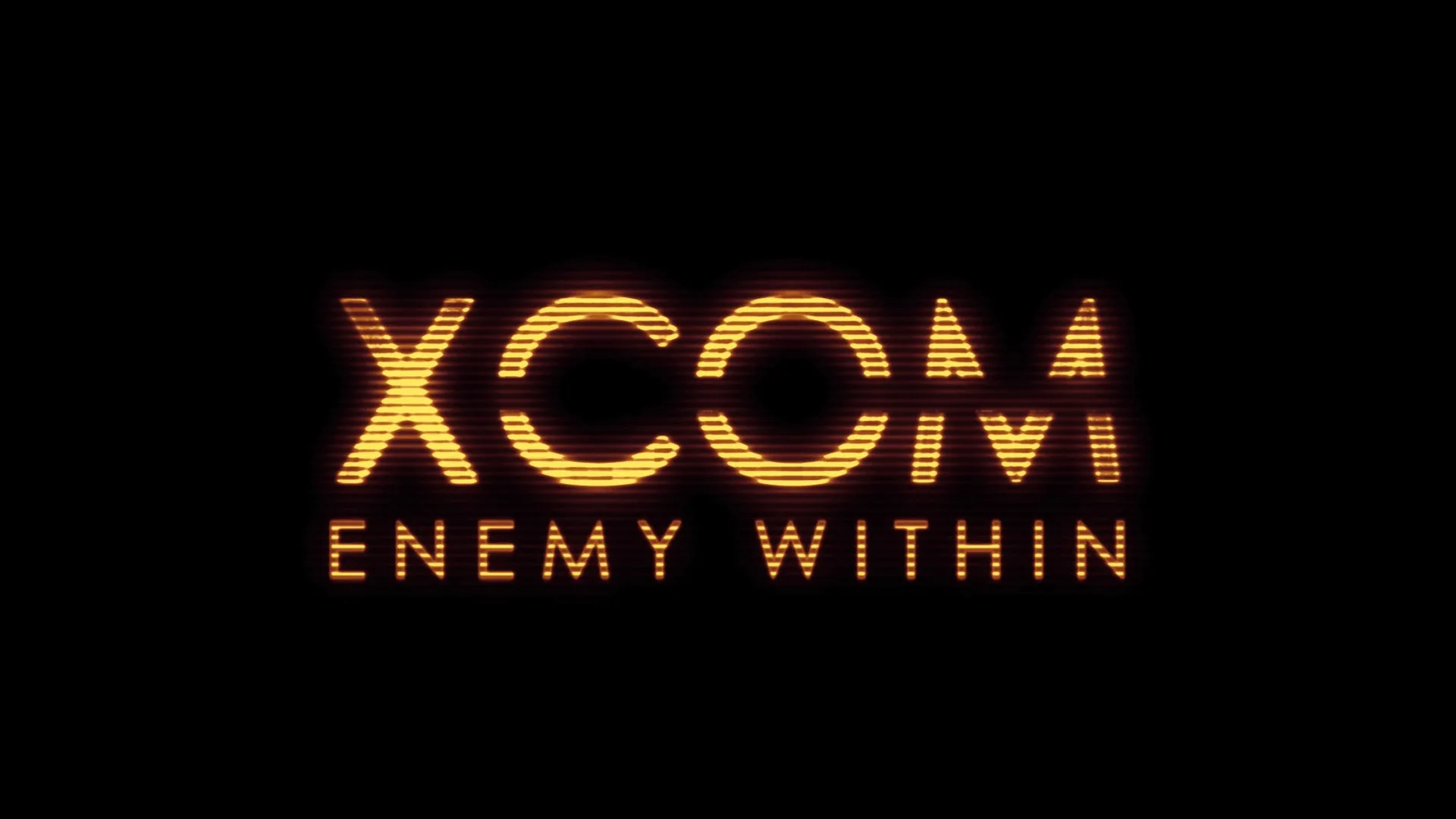Há tempos tenho a intenção de escrever sobre o Remedyverse – universo que interconecta os diferentes jogos do estúdio Remedy, responsável por obras como Max Payne, Control e Alan Wake. Não porque esteja familiarizado com o mundo compartilhado da desenvolvedora finlandesa, mas justamente pelo contrário: tenho boa parte do catálogo da Remedy esperando por mim na longa fila de jogos comprados e nunca jogados, e uma já antiga curiosidade de experimentá-los – sendo que, com exceção de FBC: Firebreak e do Alan Wake original, nunca havia rodado qualquer outro título do Remedyverse.
Pelo menos até agora.

Para iniciar nosso especial em quatro partes sobre o universo compartilhado da Remedy, decidi começar pelo jogo que me parecia o elo mais fraco dessa corrente narrativa: Quantum Break, lançado com exclusividade pela Microsoft no já longínquo ano de 2016. E não é que o jogo fez jus às baixas expectativas que eu tinha sobre ele? Insosso como sopa de papelão, trata-se de um projeto ambicioso, mas que aposta nos cavalos errados tanto em termos mecânicos quanto narrativos.
Não cabe aqui esmiuçar os detalhes da trama, bastando dizer que Quantum Break conta uma história de viagem no tempo – mas nenhuma que vá ficar na sua memória. Eu costumo dizer que histórias de viagem no tempo são que nem pizza: você precisa se esforçar para encontrar uma que seja ruim. Pois bem: não vou dizer que a história de Quantum Break seja ruim por si só, mas acontece que ela não empolga, parecendo tropeçar em si mesma.

Os diálogos variam de medianos a fracos – ainda que as atuações sejam sólidas, a exemplo das performances de Lance Reddick e Aidan Gillen. O protagonista é mal desenvolvido, surgindo como um herói quebra-galho que nunca chegamos a conhecer a fundo. E a constante exposição narrativa para explicar os meandros da viagem no tempo, naquele clássico cientifês, ocupa tanto do roteiro que é sempre um alívio quando os personagens não estão falando. Mas o pai dos problemas está no enredo, que perde várias oportunidades de contar uma história verdadeiramente única. É como se o roteiro nunca entendesse de fato qual é a graça de narrar uma aventura de ficção científica sobre deslocamentos temporais, atendo-se tão somente ao feijão com arroz das mais básicas histórias do gênero.
Não há grandes paradoxos, desdobramentos ou complicações provocadas pelo vaivém dos personagens no espaço-tempo, como nos acostumamos a esperar de obras como Interestelar, Os 12 Macacos ou O Predestinado. Durante grande parte do jogo fiquei à espera de uma reviravolta que mostrasse o talento dos roteiristas da Remedy (nesse caso, Mikko Rautalahti e Tyler Smith), mas logo percebi, com o coração carregado de tédio, que a narrativa se acomoda desde os primeiros minutos e pouco explora o potencial das melhores – ou mesmo das medianas – histórias de viagem no tempo que conhecemos.

Em outra mão, a jogabilidade falha em capturar a atenção do jogador. Temos aqui esparsos tiroteios, uma ou outra sessão de plataforma e longas caminhadas por cenários que já mostravam a predileção da Remedy por escritórios de arquitetura brutalista – um ambiente que seria plenamente desenvolvido em Control, sua produção seguinte.
Ainda que o protagonista tenha na manga diversos poderes temporais com os quais brincar (como diminuir a velocidade do tempo e se esquivar em alta velocidade), a verdade é que sobram poucas novidades para além dos primeiros confrontos, de modo que toda a diversão lentamente se apaga em meio a hordas de inimigos que oferecem pouca variação entre si. Aqui, o combate serve de complemento à história, e não o contrário, soando mais formulaico e acessório do que já era em Alan Wake.

Nesse conto sci-fi sobre viagens no tempo e superpoderes, o que se destaca no fim das contas é a inclinação da Remedy ao experimentalismo narrativo. Quantum Break se utiliza de uma estrutura multiplataformas para contar sua história: entre os capítulos do jogo, somos apresentados a episódios de uma websérie em live-action que expande a narrativa. No papel, é um esforço louvável. Na prática, no entanto, acrescenta pouco à experiência geral.
O problema é que a história contada pela série é quase irrelevante para a narrativa principal do jogo, mais próxima de um aperitivo que de uma refeição decente, cheia de fillers que raramente compensam o hiato entre uma sessão de jogo e outra. Para piorar, cada episódio tem mais de 20 minutos e acontece em grande parte em ambientes fechados, denotando a limitação orçamentária das filmagens.

Apesar de tudo, em termos gerais, não posso dizer que Quantum Break seja um jogo ruim. É fácil observar todo o amor e dedicação que foram colocados no projeto. Os gráficos são incríveis, mesmo quase dez anos após o lançamento; os atores entregam boas atuações, tanto em suas versões digitais quanto em filmagens reais; os controles são precisos e fluidos, apesar do falho sistema de cobertura automática; e por mais que os combates sejam repetitivos e às vezes um pouco truncados (principalmente jogando com mouse e teclado), eles também transbordam qualidade técnica, carregados de efeitos visuais e embalados por um ritmo quase sempre agradável.
Mesmo assim, Quantum Break falha – duplamente – em sua tentativa de ser tanto um jogo quanto uma série de alta qualidade. Seja por conta de sua narrativa conformada e pouco corajosa, seja por sua gameplay datada, repleta de interações tão insípidas quanto pressionar botões vermelhos pelo cenário, a sensação que fica é de que o jogo se leva a sério demais para ser divertido, mas não a sério o bastante para se tornar memorável.

Com um final terrivelmente súbito, anticlimático e cheio de pontas soltas, Quantum Break se encerra em sua nota mais baixa, sugerindo uma possível sequência pela qual ninguém parece realmente esperar. Como narrativa ficcional, tem o mérito de inovar em sua contação de história transmidiática, por mais sem sal e desinspirada que seja a história contada. Como um jogo sobre viagens no tempo, entretanto, parece ironicamente preso ao passado, sustentando-se em mecânicas e escolhas narrativas que pouco fazem para entreter um jogador vindo do futuro – digamos, de 2025.